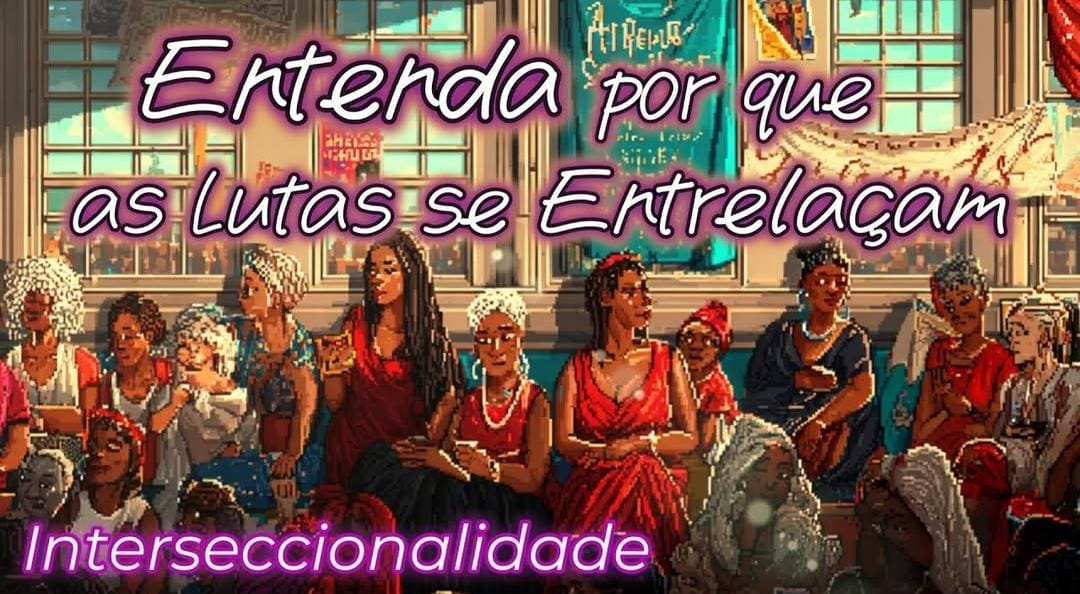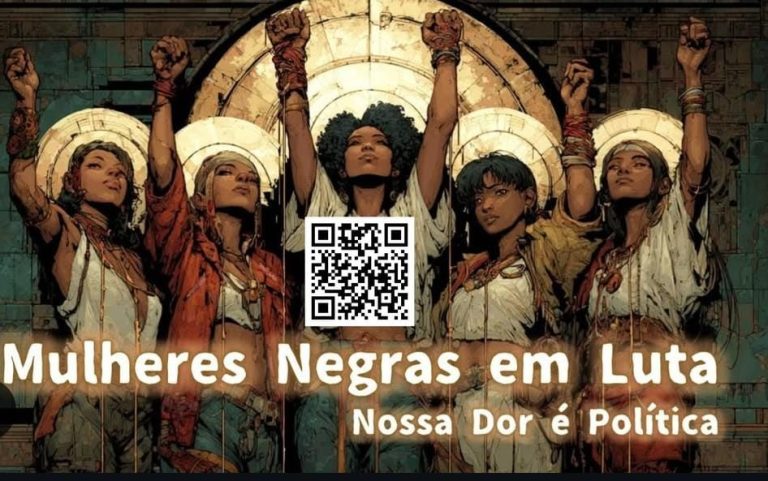21 dias de ativismo pelo fim da violência contra Mulheres e Meninas – Dia 01 – 20/11
Elaborar estratégias de enfrentamento da violência de gênero no Brasil
exige analisar o fenômeno a partir da interseccionalidade como ferramenta analítica,
de modo a compreender como raça, classe, gênero, orientação sexual, território e
outras dimensões se articulam na produção de desigualdades. Como afirmam
Collins e Bilge (2020), a interseccionalidade diz respeito a relações de poder que
não atuam isoladamente, mas se moldam mutuamente e atravessam todos os
aspectos do convívio social. No campo da violência contra as mulheres, isso
significa reconhecer que diferentes grupos vivenciam formas específicas, mais
agudas e complexas de violação de direitos, em função da posição que ocupam
nessa trama de opressões.
Neste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, trazer essa discussão
para o marco dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres
significa reforçar que, no contexto brasileiro, a análise da violência de gênero é
indissociável da questão racial. Segundo dados do Atlas da Violência 2025 (IPEA,
2025), as mulheres negras são as principais vítimas de violência de gênero no país:
em 2023, representaram 68,2% das vítimas de feminicídio e 58,5% das vítimas de
violência doméstica e intrafamiliar. O próprio relatório enfatiza que “sem a lente da
interseccionalidade é impossível compreender os números da violência contra
mulheres no Brasil” (IPEA, 2025, p. 57)
Essa disparidade evidencia que o racismo reorganiza a violência de gênero,
como já apontavam Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro ao denunciar em suas obras
que o patriarcado é atravessado pelo racismo estrutural e pelas múltiplas formas de
opressão produzidas pela conjugação entre racismo e sexismo na vida das mulheres
negras. Pensar a violência de gênero a partir da interseccionalidade, especialmente
neste 20 de novembro, implica deslocar o debate de uma perspectiva
universalizante sobre as mulheres para o reconhecimento de que raça, classe,
território e outros marcadores estruturam, de maneira desigual, as possibilidades de
viver, denunciar e acessar proteção social.
Assista o vídeo da Arena Sociológica em conjunto com o Observatório NOSOTRAS na campanha 21 Vozes, 21 Dias: https://youtu.be/Lq-2GVn4sq8?si=_HJjBy2Q04uN8a4i
Por Maria Eduarda Amaro Santos Fonseca – Assistente Social
REFERÊNCIAS
CARNEIRO, Sueli. Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo
Negro, 2011.
COLLINS, Patricia Hill; BILGE, Sirma. Interseccionalidade. Tradução de Rane
Souza. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2020.
GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: SILVA, L. A. et al.
Movimentos sociais urbanos, minorias e outros estudos. Ciências Sociais Hoje, n. 2.
Brasília: ANPOCS, 1983. p. 223-244.
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO DE
SEGURANÇA PÚBLICA. Atlas da violência 2025. Brasília, DF: Ipea; São Paulo:
FBSP, 2025. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/. Acesso em: 20
nov. 2025.